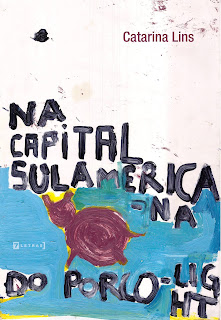quarta-feira, 18 de dezembro de 2019
Montagem de sensações que esmiúça o caos discursivo
sábado, 8 de novembro de 2014
As coisas “livres no olhar de cada um”
e feito raiz quebrarei os paralepípedos:
uma estranha árvore na confusão do tráfego.
(...)
Ninguém passará sobre meu corpo impunemente.
(Há no sinal vermelho olhos de crianças
não verdesperanças – olhos pretos de fomes infantis
reletidas nos vidros que se fecham)
O poeta fita o espaço urbano e percebe que nesse cenário não há lugar para a poesia: habita um “(...) jardim de pedras / onde um poema não resistirá ao peso das flores mortas”. Mas mesmo diante das adversidades, ele, gauche que é, ergue sua bandeira e escreve seu poema-construção – mostrando-se ciente, por outro lado, de que a realidade vista e vivida está sempre aquém e além de qualquer ideia ou emoção que o texto possa enunciar (como explicita o poema “Amar: verbo incurável”, no qual se lê: “tardo com palavras / o que os olhos já dizem ao léu”).
com uma descontinuidade simples
(...)
a casa se chama apartamento
estou na parte a que chamam quarto
meu corpo jaz sobre o que se chama cama
meus olhos olham o teto
a casa se chama apartamento
estou na parte a que chamam banheiro
meus pés no frio do que se chama chão
meus olhos nos olhos do espelho
(...)
[1] Mestrando em letras na Universidade Federal do Espírito Santo e autor dos livros Microafetos (poesia, 2005) e Macromundo (poesia, 2010).
sábado, 27 de setembro de 2014
O coração vermelho do homem sem guia
 Brevíssimo romance com um livro
de poemas dentro, “O sol partido” (2014), do escritor baiano João Mendonça,
conta uma história de amizade e amadurecimento, composta pelos encontros e
desencontros de cinco rapazes numa Salvador ensolarada. O enredo carrega um
forte sentimento de comunhão juvenil que é rompido pela constatação, por parte
do narrador, do distanciamento das relações e da finitude dos verões
despreocupados e felizes. Ao contrário dos dois amigos que vão embora – um
emigrado para o gelado norte europeu (Dinamarca), o outro para as terras frias
ao sul (Argentina) –, o narrador se fixa em sua cidade calorosa, sem abandonar
jamais o terreno familiar de ruas e parques. Num gesto memorialístico, ele tenta
tirar uma lição de vida das separações quase sempre inevitáveis que o tempo
provoca.
Brevíssimo romance com um livro
de poemas dentro, “O sol partido” (2014), do escritor baiano João Mendonça,
conta uma história de amizade e amadurecimento, composta pelos encontros e
desencontros de cinco rapazes numa Salvador ensolarada. O enredo carrega um
forte sentimento de comunhão juvenil que é rompido pela constatação, por parte
do narrador, do distanciamento das relações e da finitude dos verões
despreocupados e felizes. Ao contrário dos dois amigos que vão embora – um
emigrado para o gelado norte europeu (Dinamarca), o outro para as terras frias
ao sul (Argentina) –, o narrador se fixa em sua cidade calorosa, sem abandonar
jamais o terreno familiar de ruas e parques. Num gesto memorialístico, ele tenta
tirar uma lição de vida das separações quase sempre inevitáveis que o tempo
provoca.Texto publicado no caderno "Pensar" do jornal "A Gazeta" de Vitória (ES) do dia 27/09/2014
sábado, 22 de dezembro de 2012
 Em “Ocidente”, de Nilson Galvão, temos poesia praticada com afinco, cavada no cotidiano e cultivada em versos que acolhem fricções permanentes entre ideias, sensações e a voz que as escreve. São poemas sem divisões estróficas, como se, com essa opção, o poeta buscasse intensificar o efeito de suas associações bruscas de imagens, por meio de uma ligação icônica entre elas (procedimento já anunciado no texto de abertura, “Buñuel”, p. 3). Com uma espécie de gestualismo estilístico, que enfeixa fluência coloquial e leve experimentalismo, o poeta trafega entre episódios domésticos e referências cinematográficas e literárias (Cortázar; os personagens clássicos Bartleby, Quixote e Ulisses; Pessoa – que inspira “À beira do Tejo”, p. 12). Transparece ao longo da leitura uma concepção de poesia como evento que provoca um “furo no cotidiano” (p. 36), como em “Acidente doméstico” (p. 9) e “Milagres” (p. 38), dois dos melhores textos do pequeno volume em forma de envelope da coleção Cartas Bahianas. Alguns desses (e vários outros) textos de Galvão podem ser lidos no blog Blag.
Em “Ocidente”, de Nilson Galvão, temos poesia praticada com afinco, cavada no cotidiano e cultivada em versos que acolhem fricções permanentes entre ideias, sensações e a voz que as escreve. São poemas sem divisões estróficas, como se, com essa opção, o poeta buscasse intensificar o efeito de suas associações bruscas de imagens, por meio de uma ligação icônica entre elas (procedimento já anunciado no texto de abertura, “Buñuel”, p. 3). Com uma espécie de gestualismo estilístico, que enfeixa fluência coloquial e leve experimentalismo, o poeta trafega entre episódios domésticos e referências cinematográficas e literárias (Cortázar; os personagens clássicos Bartleby, Quixote e Ulisses; Pessoa – que inspira “À beira do Tejo”, p. 12). Transparece ao longo da leitura uma concepção de poesia como evento que provoca um “furo no cotidiano” (p. 36), como em “Acidente doméstico” (p. 9) e “Milagres” (p. 38), dois dos melhores textos do pequeno volume em forma de envelope da coleção Cartas Bahianas. Alguns desses (e vários outros) textos de Galvão podem ser lidos no blog Blag.Texto publicado em Verbo 21 (ano 13, nº 161, dez. 2012).
Três poemas do livro:
GUIA DE VIAGENS
A fé conduziu
Dante.
O ácido, Huxley.
Vai-se, de um jeito
ou de outro, ao inferno
e ao céu.
(“Ocidente”, Nilson Galvão, p. 13)
COMO QUEIRAM
Como queiram
os deuses, e como
não queiram.
A um só tempo,
o tempo todo.
(“Ocidente”, Nilson Galvão, p. 13)
CARO EINSTEIN
Deus não joga
dados, joga dardos,
tão profusos quanto
raios de sol rajadas
de vento. A ricochetear
nas paredes da casa:
dardos cujos alvos
mudam sem parar.
(“Ocidente”, Nilson Galvão, p. 47)
quarta-feira, 20 de abril de 2011
A ilha de Vitória na escrita noir de Saulo Ribeiro

A ilha de Vitória que aparece nos dois livros solo de Saulo Ribeiro – “Diana no Natal” (contos, Ed. Cousa) e “Ponto morto” (novela, Secult/ES), ambos lançados no último trimestre de 2010 – é um lugar sombrio, povoado por figuras marginalizadas e onde “condutas tipificadas pela lei como crimes” (“Ponto morto”, p. 15) estão sempre prestes a eclodir. Os narradores-personagens masculinos dos contos e da novela compartilham uma continuidade psicológica e discursiva que lhes permite ser abordados, neste breve comentário sobre o trabalho do escritor capixaba, como um só narrador-personagem: Luca Bandit, advogado de porta de cadeia autodefinido como “um machistazinho adorável” (“Diana...”, p. 39), “de índole vagabunda e personalidade contraventora” (“Diana...”, p. 56), “criado em meio ao coronelismo tardio do norte capixaba” (“Diana...”, p. 39).
 Os contos curtos de “Diana...” montam um pequeno painel noir de Vitória, com a escolha do centro antigo como cenário quase exclusivo, a caracterização de uma cidade invariavelmente chuvosa e histórias que transcorrem à noite – quando pouco se enxerga além dos “guindastes do porto vistos por uma fresta entre dois prédios” (p. 66). É significativo que as capas dos dois livros são pretas e trazem cenas de chuva. A atmosfera noir da escrita de Saulo Ribeiro fica evidente logo no primeiro texto de “Diana...”: “Eu me sentia bem no escuro e patético na luz, invariavelmente" (p. 18).
Os contos curtos de “Diana...” montam um pequeno painel noir de Vitória, com a escolha do centro antigo como cenário quase exclusivo, a caracterização de uma cidade invariavelmente chuvosa e histórias que transcorrem à noite – quando pouco se enxerga além dos “guindastes do porto vistos por uma fresta entre dois prédios” (p. 66). É significativo que as capas dos dois livros são pretas e trazem cenas de chuva. A atmosfera noir da escrita de Saulo Ribeiro fica evidente logo no primeiro texto de “Diana...”: “Eu me sentia bem no escuro e patético na luz, invariavelmente" (p. 18).
Só no último texto do livro (“Tardes de píer”) a perspectiva tem uma ligeira mudança e o olhar, antes confinado ao ambiente opressivo da ilha, se volta para fora dela, buscando vislumbrar o horizonte e o mar. Se a noite se faz bastante presente nas páginas de “Diana...”, nesta página (p. 75) o narrador-personagem fala numa “manhã de estrada, ensaio de viagem” e diz que “O sol queria fazer sentido”.
Em “Ponto morto” esse olhar para fora de Vitória é ampliado à medida que o narrador-personagem circula por uma maior variedade de espaços: ele percorre a região metropolitana, no entorno da capital (Serra, Vila Velha, Cariacica, Guarapari), e, inversamente, se entranha de modo mais profundo à ilha, em incursões a comunidades dos morros e à “Baía Noroeste”. Um traço marcante em ambos os livros é o fato de que o observador que apreende a paisagem urbana está constantemente em movimento: a bordo de um carro, em caminhadas a pé pelas ruas ou em giros a esmo numa motocicleta em alta velocidade – comportamento à beira do autodestrutivo, que exprime, em grau máximo, a “vontade de partir” (“Ponto morto”, p. 93) de uma cidade onde os engarrafamentos ganham proporções gigantescas e até “os bichos (...) estão enlouquecendo” ("Ponto morto", p. 39).
Tal desejo de evasão do caos urbano é às vezes apenas sugerido e em outros momentos manifestado de maneira explícita, sendo direcionado tanto a um retorno impossível ao interior do Espírito Santo – na direção do centro originário da história pessoal de Luca Bandit ("Eu nunca deveria ter saído da roça e trocado tudo pelo sentimento portuário, essa é a verdade", p. 55 de "Ponto morto") –, quanto, centrifugamente, dirigindo-se a outros paradeiros possíveis (dos quais o mar e o porto de Vitória são símbolos recorrentes, concretizados, afinal, na megametrópole portuária terceiromundista para onde o personagem decide viajar no desfecho da novela).
entre em contato com Saulo Ribeiro ou com a Ed. Cousa.
quinta-feira, 14 de abril de 2011

“Não sei se não tenho nada a dizer, sei que não digo nada; não sei se o que teria a dizer não é dito por ser indizível (o indizível não está escondido na escrita, é aquilo que muito antes a desencadeou); sei que o que digo é branco, é neutro, é signo de uma vez por todas de um aniquilamento de uma vez por todas.”
(Georges Perec, “W ou a memória da infância”, tradução de Paulo Neves, Companhia das Letras, 1995, p. 54)
Perec desenvolve em “W ou a memória da infância” (lançado em 1975) uma experiência textual de entrelaçamento de suas lembranças de infância (na França ocupada da II Guerra) e duas narrativas ficcionais remotamente interrelacionadas (uma das quais, a segunda, é a reconstituição de uma história escrita pelo autor aos 13 anos, depois perdida e quase esquecida, e que trata, com verve alegórico-fantástica, de uma “sociedade preocupada apenas com o esporte, numa ilhota da Terra do Fogo”, p. 14). A composição heteróclita de “W” aponta para uma reflexão sobre os vazios e as lacunas deixados pelo tempo na memória individual e que são preenchidos pelo imaginário na elaboração de nossa história pessoal – aspecto do livro destacado pelas inúmeras notas (com correções, emendas e acréscimos) justapostas pelo próprio autor ao relato de sua infância e da separação e perda dos pais (o pai, aos quatro anos; a mãe, aos seis). A essa reinvenção da memória pela escritura corresponde, no plano estritamente ficcional da obra, o procedimento da súbita interrupção do “romance de aventuras” da primeira parte (narrado por um homem que adota o passaporte e a identidade de outro, após ter desertado do exército durante uma guerra), que “começa contando uma história e, de repente, se lança numa outra”, numa “fratura que suspende a narrativa em torno de não se sabe qual expectativa” (como indica Perec na nota sem título que abre o volume).
segunda-feira, 2 de agosto de 2010
“Palavras-cantigas de ninar”
 Um mantra ecoa nas notas (musicais) de Katherine Funke: viver cada instante em si, com o tempo que lhe é próprio, sem se deixar arrastar pela velocidade imposta pelo cotidiano. A escrita como uma ferramenta de aperfeiçoamento do ser produz “palavras-cantigas de ninar” (“Kappus, hoje”). Katherine captura o mundo com um olhar distanciado, mas deixa sua marca pessoal ao desmontar as máquinas indutoras de automatismos da percepção. Uma sabedoria selvagem emerge destes aforismos, microcontos, crônicas em cápsulas e minirreportagens poéticas. Neles, a escritora constrói um retrato do tempo como uma viagem na qual somos todos “efêmeros passageiros suspensos na direção de seus destinos, seus acasos, seus passados, seus futuros” (“Congonhas”). “Notas mínimas” se insere na tendência, que veio para ficar, de trabalhos literários testados primeiro em meio eletrônico e, sucedaneamente, editados em livro.
Um mantra ecoa nas notas (musicais) de Katherine Funke: viver cada instante em si, com o tempo que lhe é próprio, sem se deixar arrastar pela velocidade imposta pelo cotidiano. A escrita como uma ferramenta de aperfeiçoamento do ser produz “palavras-cantigas de ninar” (“Kappus, hoje”). Katherine captura o mundo com um olhar distanciado, mas deixa sua marca pessoal ao desmontar as máquinas indutoras de automatismos da percepção. Uma sabedoria selvagem emerge destes aforismos, microcontos, crônicas em cápsulas e minirreportagens poéticas. Neles, a escritora constrói um retrato do tempo como uma viagem na qual somos todos “efêmeros passageiros suspensos na direção de seus destinos, seus acasos, seus passados, seus futuros” (“Congonhas”). “Notas mínimas” se insere na tendência, que veio para ficar, de trabalhos literários testados primeiro em meio eletrônico e, sucedaneamente, editados em livro.Orelha que escrevi para o livro de estreia da catarinense-baiana Katherine Funke. "Notas mínimas" será lançado durante a 21ª Bienal do Livro de São Paulo, no dia 13 de agosto (sexta), às 18h,
no estande da Solisluna Editora (Rua L, n° 50).
A autora também estará circulando por Paraty durante a 8ª Flip,
com seu belo livro recheado de ilustrações de Enéas Guerra.
Um lançamento em Salvador também está por ser marcado.